Por Leonardo Roberto*
“Ouvi uma piada uma vez: Um homem vai ao médico, diz que está deprimido. Diz que a vida parece dura e cruel. Conta que se sente só num mundo ameaçador onde o que se anuncia é vago e incerto.
O médico diz: “O tratamento é simples. O grande palhaço Pagliacci está na cidade, assista ao espetáculo. Isso deve animá-lo.”
O homem se desfaz em lágrimas. E diz: “Mas, doutor… Eu sou o Pagliacci.”
Boa piada. Todo mundo ri. Rufam os tambores. Desce o pano”
Fãs do universo dos quadrinhos e cinematográfico da DC devem se lembrar dessa piada, contada pelo vigilante mascarado e maníaco, Rorschach, um dos personagens centrais de Watchmen, Magum Opus do maior quadrinista vivo, o britânico Alan Moore. O gracejo é contado por meio do diário do vigilante, onde ele compila seu desprezo pelo o que a sociedade se tornou. Rorschach usa a piada para refletir em torno da morte de outro personagem, o Comediante, um soldado violento e alcoólatra que tinha no alívio cômico a sustentação de seus dias pós-guerra do Vietnam, carregados de culpa e falta de propósito.
A relação entre a comédia e a tragédia é antiga, relatada desde os cultos ao deus Dionísio – deidade do vinho e das metamorfoses – celebrações fundadoras do teatro ocidental moderno. As tragédias gregas abordavam a vida de deuses, semideuses e heróis e não raro edificavam a figura desses personagens ao humanizá-los por mais atrozes que suas ações pudessem ser. A comédia, por outro lado, tratava questões mundanas, mas não se limitava, tomava liberdades e por meio da inocência lúdica satirizava até mesmo os deuses, usava o humor para levar a vida dos reis à boca do povo e, em sua gênese popular, fora, desde o começo, alvo de censura e um instrumento da democracia ateniense.
Alan Moore sabia disso ao escrever o roteiro de Watchmen, repleto de referências mitológicas. Sabia também que sua versão da piada “O Paciente” era antiga e bem documentada na Inglaterra, frequentemente associada ao mais famoso palhaço inglês do período vitoriano, Joseph Grimaldi, que, ao contar piada/história similar, colocava-se como o palhaço que procura o médico, unindo chavões: “a vida imita a arte” e “rir para não chorar”.
Grimaldi, o palhaço dos palhaços, vinha de uma linhagem de artistas e dançarinos londrinos. Seu pai havia alcançado os palcos dos mais prestigiados teatros parisienses, antes de morrer, deixando dívidas para a mulher, que atuava como arlequina, e o filho de nove anos. Contudo, Grimaldi atingiu a fama que nenhum outro palhaço havia conhecido, tornando-se personagem central nas peças que atuara. Rodou toda a Europa com seus números. Após anos de extenuantes atuações energéticas que entretinham as aristocracias, passou a sofrer degeneração física, agravada pelo alcoolismo, morrendo pobre em um subúrbio londrino, deixando uma esposa e um filho, ambos com tendências suicidas. Charles Dickens, que reescreveu a autobiografia do homem que mudou a palhaçaria, comenta sobre as inusitadas interações que o ator promovia junto à plateia, frequentemente, zombando da rainha e dos ricos. A plateia, nesse caso, é quem assumia o papel do bobo. “I am grim all day but I make you laugh at night” (“Eu sou sombrio o dia todo, mas eu o faço rir à noite”) dizia Grimaldi. Grimaldi, grim-all-day.


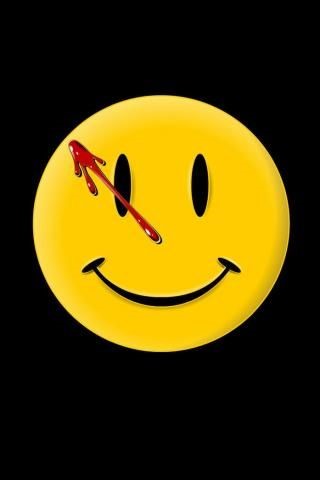
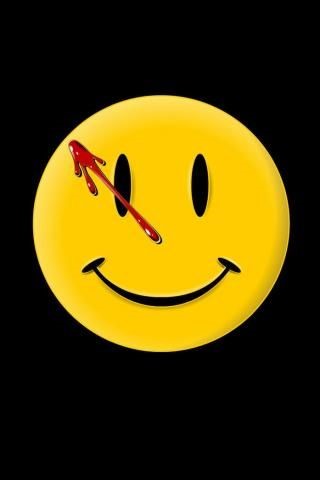
Bruce Wayne também teve seu dia ruim, na ocasião em que, ainda criança, presencia a morte dos pais, motivando-o a assumir o papel de vigilante mascarado de Gotham. Com um uniforme cartunesco de morcego, passa a vigiar e punir o crime. Apesar do tom sombrio que o herói leva, representa a ordem e a moral, que o transforma em uma singular figura apolínea em uma Gotham infestada pelo crime. A tese do Coringa é de que eles se equivalem, se sustentam, ambos são loucos, isso transparece em sua relação. A coexistência e mutualidade entre os universos dionisíacos e apolíneos, do caos e da ordem. Esse é o moto de O Cavaleiro das Trevas, com um Coringa brilhantemente interpretado por Heath Ledger. Mas o que acontece quando deixamos Apolo como figurante e voltamos o holofote para Dionísio?


Pudesse dividir o filme, o faria em três atos: Depressão, ansiedade e absurdo. Os dois primeiros se confundem e se alimentam – bem como estes dois transtornos psíquicos – em quase duas horas de tela retratando ambientes sujos, decadentes, onde um amarelo ocre escurecido, perpassado, em alguns momentos, por um melancólico azul infante, domina as cenas durante as duas primeiras metades do filme, ao passo que o inocente e fragilizado Arthur cuida da mãe doente, tem delírios românticos com sua vizinha, sente o abandono do serviço social que corta sua assistência psiquiátrica e que impede seu acesso aos sete remédios controlados que toma. A risada característica do personagem aqui é explicada por um distúrbio, provavelmente advindo de traumas da infância, quando era abusado pelo seu padrasto, assistido pela mãe paranoica esquizofrênica. Leva surras de crianças enquanto trabalha como palhaço e depois, preso no vagão do metrô com três yuppies do mercado financeiro. Nessa segunda ocasião atira nos agressores, matando-os, são as três primeiras mortes das sete do filme. Uma para cada remédio perdido.


Conforme o último ato se desencadeia, o filme se torna mais colorido, os ambientes se ampliam e surgem menos opressivos, ainda que nada na vida do protagonista tenha melhorado, para finalmente, nas últimas cenas, nos transportarem para um cenário inédito no filme, branco e límpido, com o Coringa rindo um riso relaxado e satisfeito, diferente de todos os anteriores. Arthur Fleck, quando performa sua entrada triunfal no programa de entrevistas, já assume sua versão adulta, confiante e decidido a ser uma manifestação extrema de uma tendência da sociedade excludente em que vive. As normas sociais já não fazem mais sentido e, ao que tudo indica na narrativa, nesse momento ele percebe que nunca fizeram, estimulando suas ações que tomam proporções cada vez maiores, inacreditáveis, absurdas. A transmissão do assassinato de um apresentador de tevê popular, representante do status quo coroado pela mídia, é o combustível para o desencadear violento e extasiado da desobediência civil em Gotham, que faz com que o palhaço se torne símbolo e depois ídolo de um movimento, não de justiça social, mas de ressentimento por uma sociedade cínica e desumana. Os contornos absurdos da obra podem ser sentidos nas salas de cinema. Gargalhadas acompanham um anão assustado tentando fugir do apartamento, após o protagonista macetar e abrir a cabeça de um desafeto na parede. Do que estamos rindo mesmo?




*Leonardo Roberto é estudante de mestrado no programa de Estudos de Cultura Contemporânea na Universidade Federal do Mato Grosso (ECCO-PPG).






















Mais um texto sensacional
“Rufam os tambores. Desce o pano”
Texto e referências impecáveis!