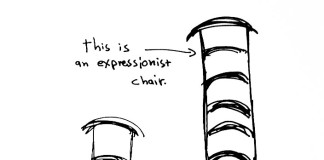Por Daniel Aarão Reis*
A orientação do presidente Bolsonaro para que os quartéis comemorem a instauração da ditadura, em 1964, suscitou polêmicas que cumpre retomar, evitando-se histórias “oficiais” – à direita e à esquerda.
Vamos por partes.
- A gênese
Em fins de março de 1964 instaurou-se no país uma ditadura através de um golpe de Estado. Um fato objetivo. Um presidente legítimo foi deposto pelas armas e teve início um regime de exceção, onde o direito da força prima sobre a força do direito. Em outras palavras: onde a vontade do poder se sobrepõe ou nega a existência das leis, (re) criando legislações a seu bel prazer.
Entretanto, a ditadura não se tornou vitoriosa apenas pela ação militar. Foi um golpe civil-militar. Houve apoio social, que se exprimiu nas Marchas da Família com Deus e pela Liberdade: nas capitais dos Estados e em cidades médias e pequenas. A força das tradições conservadoras e autoritárias. Neste movimento estão as raízes que explicam, ao menos em parte, a ascensão atual da extrema-direita. Além disso, dirigentes civis, políticos, empresários, religiosos, participaram do golpe, sem contar instituições, como a Ordem dos Advogados do Brasil/OAB, a Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros/CNBB e as principais mídias.
A simpatia que o golpe suscitou foi consequência do medo de uma ditadura comunista. A chamada guerra fria, entre os EUA e a União Soviética, estava no auge. A revolução cubana acontecera. No Brasil, um amplo movimento reformista propunha mudanças estruturais visando a “democratização da democracia”. Aparentemente, havia ali um equilíbrio de forças, contribuindo para o acirramento das contradições.
Assim, a vitória fulminante do golpe de Estado foi uma surpresa, mesmo para os golpistas mais otimistas. Como compreender a derrota das esquerdas? Vacilações de suas lideranças mais importantes, que temeriam enfrentamentos imprevisíveis? Organizações populares muito dependentes do Estado e de suas iniciativas? Dúvidas de muitos sobre se deveriam engajar-se numa luta decisiva para defender aquela república? Um pouco de tudo isto? O fato é que, até hoje, a derrota das esquerdas carece de melhor compreensão.
Muitos que apoiaram a instauração da ditadura a desejavam de curta duração. Ela eliminaria as forças de esquerda e as eleições do ano seguinte se realizariam. Aí houve uma surpresa. Os chefes militares apropriaram-se do poder por longo tempo, afirmando a preeminência indisputada das corporações militares (exército, marinha e aeronáutica). Daí ser exato conceituar o regime como uma ditadura militar.
- A história da ditadura – do liberalismo ao nacional-estatismo: apoios e oposições.
O primeiro governo ditatorial, chefiado pelo general Castelo Branco, apostou numa orientação liberal. A ideia era enterrar as heranças varguistas e a cultura política nacional-estatista. A aposta foi perdida. A propósito deste governo, brotou a formulação de que teria sido uma ditadura branda, uma ditabranda. Como então ficariam, entre outras arbitrariedades, as milhares de prisões e cassações de direitos políticos e civis? As torturas acobertadas? A dissolução dos partidos políticos? O fechamento do Congresso? A alteração arbitrária da legislação eleitoral? Recusar evidências não é rever a história, mas negá-la. É o negacionismo, a eliminação da história.
Os governos ditatoriais seguintes, principalmente no período Médici-Geisel (1969-1979), retomaram os parâmetros nacional-estatistas, mas excluindo o povo. Isso não os impediu, entretanto, de conservar e ampliar apoios civis. Daí ter surgido a ideia de uma ditadura civil-militar, para aprofundar a reflexão sobre as complexas relações entre a ditadura e a sociedade, e evidenciar as cumplicidades de segmentos civis, inclusive de camadas populares, com a ditadura. Muito já se fez para desvendar estas cumplicidades, muito ainda há que se fazer, para recuperar e compreender como se comportaram as mulheres e os homens comuns sob a ditadura. Mais pistas poderão daí advir para entender o “fenômeno” Bolsonaro.
A ditadura, porém, sempre suscitou oposições. Moderadas e radicais. Entre os moderados, muitos apoiadores, decepcionados com os militares. E os que nunca a aceitaram, mas também não acreditavam em enfrentamentos violentos com o poder. Entre os radicais, correntes revolucionárias, de armas nas mãos, tentaram derrotar a ditadura, destruir o capitalismo e construir uma sociedade alternativa. A ditadura revolucionária asseguraria a transição nos moldes do socialismo autoritário plasmado pelas revoluções russas e confirmado pelo exemplo cubano.
A ditadura massacrou os radicais – com o uso e o abuso da tortura como política de Estado – e neutralizou os moderados, alguns dos quais também foram presos e torturados. Mais tarde, muitos destes últimos contribuiriam no processo de transição rumo à restauração democrática.
Entre os críticos da ditadura houve um triplo equívoco. Imaginaram-na destinada à estagnação econômica. À subserviência aos EUA. E à pura e simples repressão violenta, exercida por boçais – os “gorilas”. Não foi o que aconteceu. O capitalismo mudou de patamar, embora à custa de desigualdades sociais e regionais. Recuperou-se o nacional-estatismo como programa. E a própria repressão – sempre impiedosa – combinou-se com políticas de conciliação e de “acomodação”. Anos de chumbo, certamente. Mas também de ouro, e para não poucos.
- A longa transição da ditadura à democracia.
A transição começou no início do governo Geisel, em 1974 e foi até a aprovação da Constituição de 1988. Transicional – estendendo-se no tempo. Transacional – baseada na negociação. A primeira fase terminou com a extinção dos Atos Institucionais, em 1979. Estendeu-se, a partir daí, uma outra etapa, onde já não havia ditadura, mas ainda não surgira um Estado de Direito democrático. A tese, ainda hoje dominante, que a ditadura terminou com a posse de José Sarney, em 1985, tende a privilegiar a preeminência militar e ocultar a participação civil no processo ditatorial. É certo que o último general presidente, João Figueiredo, foi “eleito” ainda nos marcos da ditadura. Mas governou sem o apoio dos Atos Institucionais. Conciliava com os aparelhos repressivos e com os atentados terroristas de extrema-direita. Mas os tribunais agiam com autonomia. Não havia presos políticos. A imprensa não era mais censurada. Os partidos políticos e os sindicatos funcionavam em liberdade. Em 1982, elegeram-se candidatos das oposições e os resultados não foram questionados. Houve ainda greves parciais e gerais, além do gigantesco movimento pelas eleições diretas para a presidência da república (1983-1984): tudo isto aconteceu às claras, nas ruas, sem repressão sangrenta. Como falar, então, em ditadura? Uma impropriedade.
Em outubro de 1988, a nova Constituição encerrou a transição, mas não agradou a todos. Conservando a cultura política nacional-estatista, irritou os liberais. Mas desagradou também às esquerdas, ao não priorizar a reforma agrária e reivindicações históricas, como a estabilidade no emprego e a semana de trabalho de 40 horas. Por outro lado, ao lado de inovações concernentes aos direitos civis, políticos e sociais, nela permaneceram as marcas da transição longa e negociada, os legados da ditadura. Entre outros, a hegemonia do poder executivo e da União. O modelo econômico. O monopólio dos meios de comunicação e da terra. A hegemonia do capital financeiro. A tutela – mal disfarçada – das forças armadas. Uma constituição híbrida. Chamá-la de “cidadã”, como quis Ulysses Guimarães, foi uma licença poética.
- A memória da ditadura
Entre 1988 e 2018, trinta anos se passaram. O que se fez em relação à memória da ditadura?
Infelizmente, muito pouco.
Como em relação à ditadura do Estado Novo (1937-1945), prevaleceu a ideia de que “olhar pelo retrovisor” mexeria com “feridas abertas”. Claro, nas universidades, pesquisas foram empreendidas. A mídia, em datas redondas, divulgou controvérsias. Mas nada capaz de fazer a sociedade ver que a ditadura não era um passado que passara, mas algo que permanecia, através de seus legados. As Forças Armadas não foram convocadas para um debate sobre suas funções numa sociedade democrática. Ao contrário, só foram chamadas para assegurar a ordem pública, cumprindo papel de polícia, o que só fez aumentar seu prestígio. É certo que uma Comissão Nacional da Verdade funcionou, mas suas resoluções cedo caíram no esquecimento.
Enquanto isto políticos e partidos – de esquerda e de direita – compraziam-se em dizer, por oportunismo ou interesse, que a democracia no país estava “consolidada”. Seus erros geraram consequências, com o ressurgimento, à luz do dia, das tradições conservadoras e autoritárias que permaneciam subterrâneas, mas vivas.
Compreendê-las e superá-las, através do debate e das lutas políticas, é um desafio e tanto. Esconder evidências históricas ou distorcê-las não será um bom caminho para a sempre necessária “democratização da democracia” brasileira.
…
Gostaria agora de explicitar de que ponto de vista falo, pois ninguém pensa sem premissas ou princípios. Depois de uma longa trajetória, identifiquei-me com o socialismo democrático, ainda por nascer, a ser alcançado pela persuasão, pela participação e pelo voto, distante do capitalismo, sempre desigual e injusto, e também do socialismo autoritário. Estas referências não devem incidir sobre o que é essencial no ofício do historiador – a busca da evidência e da verdade.
Atento a isto, N. Kruchtchev advertiu que a “história era muito séria para ser deixada nas mãos de historiadores”. A frase exprime a ambição do Estado no sentido de controlar a historiografia e fazê-la serva das “histórias oficiais”. Aos historiadores cabe resistir, afirmando, para além de interpretações que podem e devem variar, os compromissos éticos com as evidências e as verdades. Por mais fugazes e provisórias que estas sejam, apenas entrevistas, como ruínas sob os relâmpagos das tempestades, na bela metáfora de W. Benjamin.
Daniel Aarão Reis. Professor de História Contemporânea da Univ. Federal Fluminense/UFF Março, 2019